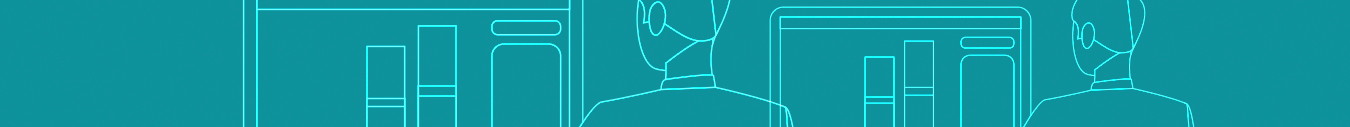O ambiente atual é de profunda incerteza. As atitudes de paralisação da economia, necessárias e sem precedentes, tem consequências drásticas para os negócios, para a atividade econômica e para os empregos. As populações cobram atitudes dos governos, que se desdobram para dar respostas efetivas para as sociedades. E é nesse ambiente que as convicções políticas de gerações são moldadas. É interessante notar como isso se desenrolou em crises passadas. Convém começar olhando para 1929 – o ano no qual começou a Grande Depressão Americana.
De agosto de 1929 até o último ano da recessão, a economia contraiu em cerca de 50%. Até o fim do ano, mais de 600 bancos decretaram falência. Em 1933, os Estados Unidos já acumulavam quatro anos seguidos de contração econômica. O processo era retroalimentado pela deflação – os preços praticados na economia americana, por conta da queda da demanda, cederam em 27% entre novembro de 1929 e março de 1933. Isso levou muitas empresas à falência.
O que retirou o país da depressão foi uma resposta política. A economia de então era quase que puramente de livre mercado, com pouquíssima participação governamental. Cansados da recessão, os americanos elegeram Franklin Roosevelt, que defendia uma participação maior do estado na economia. Foi o New Deal que proporcionou o primeiro ano de retomada em 1934. O custo disso foi a dívida: se o governo dos Estados Unidos devia menos de 20% do PIB antes de 1929, essa cifra chegou a mais de 40% ao longo dos anos 30. Desde então, nunca mais ficou abaixo de 30%.
Foi o aprendizado (e o trauma) de 29 que autorizou os Estados Unidos a não se deixarem mais constranger pela atuação governamental. A resposta à crise de 2008 veio forte. O Federal Reserve, Banco Central americano, colocou estímulos monetários sem precedentes na economia, derrubando a taxa de juros a quase zero, e comprando títulos públicos americanos para comprimir o custo do empréstimo de longo prazo para toda a economia. O governo concedeu também estímulos fiscais à população, para incentivar o consumo, e salvou diretamente diversas empresas do risco de falência. Novamente, o custo se deu pela dívida pública: partindo de patamares já altos em 2007, em cerca de 62% do PIB, chegou a 100% em 2014.
À época, se temia que o aumento do endividamento público e da base monetária poderiam gerar inflação. Mas não foi o que ocorreu. Os índices de preços aos consumidores americanos permaneceram teimosamente baixos no pós-crise, mesmo após reiteradas tentativas do Banco Central de elevá-los. Em um país de memória inflacionária recente como o Brasil, o leitor pode se perguntar por qual motivo os banqueiros centrais americanos queriam uma inflação mais alta. Respondo: a experiência deflacionária de 1929 foi muito traumática. É muito mais fácil conviver com inflação mais alta (como os Estados Unidos até chegaram a experimentar na década de 70), do que com preços em queda.
Mas o fato é que a inflação não veio, e os Estados Unidos voltaram a crescer, ainda que timidamente, após 2009. Empregos foram gerados em ritmo gradual, porém crescente, levando lentamente a taxa de desemprego para níveis muito baixos. O que efetivamente cresceu foi a desigualdade: após a crise, a disparidade de patrimônio entre as famílias mais ricas e as mais pobres atingiu níveis recordes. Isso, aliado a mudanças demográficas nos Estados Unidos, levou a uma percepção de que o governo tomou medidas eficientes para salvar a economia, mas o fez beneficiando os mais ricos, às custas dos mais pobres. Os altos salários pagos a executivos de bancos que foram salvos pelo governo em 2008 ajudaram a compor a narrativa.
Todo esse contexto levou a sociedade americana a caminhar, gradativamente, na direção de um pensamento político menos preocupado com gastos do governo. Se em 2008 o país emitiu dívida sem gerar inflação, para salvar os mais ricos, por qual motivo não poderia fazer para ajudar aos mais pobres? Mesmo que a dívida pública aumente muito, com as taxas de juros baixas como estão, qual seria o problema? Não a toa, proponentes da Teoria Monetária Moderna – famosa por desconsiderar os efeitos do aumento da dívida pública na inflação – ganharam espaço no terreno político dos Estados Unidos.
É nesse ambiente que se deu a crise da pandemia do coronavírus. O solo político estava fértil para experimentos econômicos, testes dos limites do endividamento público e da inflação. Mesmo no ambiente extremamente conflagrado de Washington, foi fácil obter apoio de ambos os partidos para ligar as impressoras. Em um movimento absolutamente sem precedentes, o Federal Reserve e o Congresso aprovaram trilhões de dólares em estímulos de natureza monetária e fiscal, ampliando todo o já criativo arsenal desenhado em 2008.
Será o resultado desses programas que irá moldar a história do papel esperado dos Estados daqui para a frente. Se os programas de estímulo americanos (e de muitas outras nações) forem bem-sucedidos – evitando uma derrocada profunda da economia e sem consequências inflacionárias relevantes – espere governos muito mais proativos à frente, dispostos a ampliar cada vez mais os limites de gasto público para garantir o crescimento econômico e o bem estar da população. Alguns tem convicção de que não é possível que a impressão de dinheiro, desmedida, não gere consequências desastrosas para a confiança na moeda.
Caso você se encontre no segundo grupo, compre ouro. Mas corra. Seu preço, em dólares, já acumula quase 15% de alta em 2020.