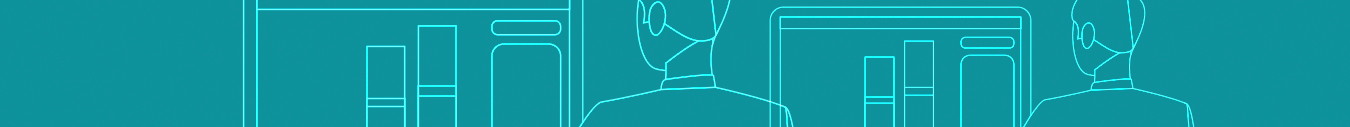“Se o Brasil tiver que decretar estado de calamidade pública, vamos permitir reajuste para sindicato [de servidores]? Isso é imoral”.
(Marcio Bittar, do MDB do Acre, relator da PEC Emergencial)
A PEC Emergencial prevê uma série de gatilhos que a administração pública, em todas as esferas, poderia acionar a partir de determinado grau de comprometimento do orçamento com despesas obrigatórias.
Sua discussão acontece desde 2019, nos tempos pré-pandêmicos, quando a situação fiscal do Brasil já era bastante ruim. Veio então a pandemia, e as contas se deterioraram substancialmente. Com a segunda onda do vírus, os clamores populares se fizeram ouvidos em Brasília, que quer uma extensão do auxílio-emergencial de qualquer maneira.
Guedes, percebendo que seria impossível barrar o benefício, decidiu barganhar. Quer que o novo auxílio seja aprovado somente se em conjunto com a PEC Emergencial. Aproveitando o momento de “lua de mel” com o Congresso, tendo seus líderes recém-eleitos, colocou o Senado contra a parede.
A questão é que alterações constitucionais são complexas e exigem um rito especial. O governo já forçou que o projeto fosse diretamente para plenário, sem passar nas comissões especiais rotineiras. Mas o Congresso diz que as propostas da PEC Emergencial requerem mais avaliação e mais tempo, enquanto o auxílio-emergencial é, como o próprio nome diz, emergencial. Precisa ser aprovado logo.
No afã da aprovação, o relator teve a leitura de sua avaliação, inicialmente marcada para esta semana, para a semana que vem. Já abriu mão de uma proposta que foi considerada excessivamente austera – cortar salários com cortes equivalentes na jornada para servidores – e agora foi forçado a abrir mão também da desvinculação dos orçamentos de saúde e educação.
O que temos é um projeto desidratado, com um risco cada vez mais alto de que apenas o benefício seja aprovado. Os ajustes fiscais ficariam para um segundo momento. Após a demissão de Castello Branco, Paulo Guedes acumula mais uma derrota.